Se 1% dos meus leitores conseguir ler o que eu vou escrevendo, chega-me e sobra-me.
Muita coisa
mas depois, hoje como ontem
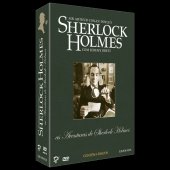
No semáforo vermelho
Entregam os jornais pelo meio das filas de carros, assim conseguem chegar a mais janelas que se abrem. Não trocam de espaços entre as filas: cada um tem o seu, não se roubam os clientes (para receber os dois jornais, o ideal é ter o carro na fila do meio). Depois, quando o semáforo abre, vão pelo passeio fora, a conversar. Um de camisola cor-de-laranja, Metro escrito em verde, o outro com a camisola vermelha do Destak.
No semáforo vermelho
Não se apita quando o carro da frente demora mais que dois milionésimos de segundo a arrancar no verde, mas vá-se lá ensinar isso ao apressadinho. E depois, há certas buzinas estridentes que deveriam ser retiradas do mercado: aquele apito histérico, de carro pequenote e já com muita inspecção feita, letras ainda no início da matrícula, tudo aponta para a pressa de quem nunca chegou a lado nenhum. É inevitável olhar, a ver que criatura é aquela e já o Renault 5, ultrapassados os outros carros que o empatavam no vermelho antes do cruzamento, passa por mim. Naquele segundo quase atropelo a meia dúzia de heróis que ainda atravessam a correr no vermelho para os peões, de espanto tal que nem me consigo rir: por baixo do penduricalho do espelho retrovisor, agarrada ao tablier, está uma ventoinha. Uma ventoinha. Uma v-e-n-t-o-i-n-h-a.
No semáforo vermelho
A rapariga é realmente muito gira. Leva uma criança pela mão e o carteiro mete-se com o miúdo. Troca umas frases com a mãe. Ela sorri e depois afasta-se. Ele assobia. Ela volta-se e ele diz, era para o seu filho, dizer-lhe adeus (e tal) e ela, ah pois (e tal), cara séria.
Ela já de costas para o carteiro, a desmanchar-se a rir, o carteiro todo contente da vida, avança em sentido oposto, com um enorme sorriso na cara.
Horas complicadas
Em desespero absoluto chama Mãe! Mãe! à pessoa que tem ao lado. Não é a Mãe; naquele momento não conhece ninguém. A pessoa ao lado, em desespero de causa, oferece um abraço e diz, vá, calma, calma. Isso já passa, isso já passa, isso já passa, filha.
Depois melhora.
Back (uma merda é o que é)
Sem grande entusiasmo. E com coisas graves para resolver: amanhã, como é que vou conseguir enfiar os dedos dos pés (e a planta e o calcanhar) dentro de uns sapatos?
Ah, problemas citadinos, uma maçada tudo isto.
É.
Tirei os comentários. Amoques meus, o costume.
adenda: reclamações para
miragem[arroba]gmail[ponto]com
Das memórias (1)
Seria 1954 talvez, quando foi aos Açores. Acompanhava o marido e levava o filho mais novo que teria pouco mais de um ano. Enquanto o marido trabalhava, dava uns passeios com a criança, umas voltas perto da casa onde estavam.
Ao fim de dois dias, uma senhora conhecida, com muitos pedidos de desculpa pelo que iria dizer, que não pensasse que a intenção não era boa e mais coisas assim entre grandes cerimónias, avisou-a: que de manhã ainda poderia ser; mas sair depois do almoço sem chapéu, parecia mal.
Agapantos
A meio da tarde, um imprevisto. Acordo da preguiça das últimas semanas e, duas horas depois, estou no meu habitat do costume; não estava no programa de férias (na verdade, havia apenas um vago plano de consulta ao livro de receitas para se decidir a sobremesa do jantar, tarefa a que me entreguei durante quase três semanas, redescobrindo em mim o gosto de fazer doces, coisa antiga mas de pouca oportunidade no dia a dia), calhou assim, um entretanto repentino, sem coragem de mais km para trás, melhor de manhã cedo, a tempo para a sobremesa do almoço.
Habitat do costume inclui net, como qualquer bom viciado na coisa. Não que não a tenha pelos meus lados; a biblioteca mais perto tem wireless e precisei de enviar um email. Fiz a minha estreia discretamente, como é habitual nesses locais de estudo sossegado: entrei no site da netcabo e disparou uma música e uma voz aos gritos: o pc era emprestado e tirar o som uma incógnita; imagine-se o resto, entre pedidos de desculpa e carregar em botões até perceber que bastava fechar aquela janela. A anhuca sempre igual a si mesma (não me correram de lá, acho que tiveram pena de mim). Fiquei a saber como funcionava, tratei do que ali me levava, desliguei e voltei para férias que são também – sempre – de net: viciada mas nem tanto.
Não escrevi nada. Não que não tenha histórias, tenho. Muitas. Mas são as minhas, as que ouvi, as que se passaram, as que vão surgindo no sossego do longe de tudo e perto de outras coisas mais importantes. Agapantos, por exemplo, cortar as flores que secam. Se as caipirinhas ficam melhores com açúcar branco ou amarelo. Se as douradas da véspera eram melhores que as sardinhas grelhadas do dia. Se a criança ainda pode tomar mais um banho que já está quase noite. Se hei-de ler alguma coisa ou ver mais um dvd do Poirot/Miss Marple/Tommy and Tuppence. O novo centro comercial de Coimbra, numa tarde depois de uma manhã de feira, camisolas giríssimas só cinco euros e leve três e mais uns alguidares de plástico às cores, seguidos de uma Fnac branquinha depois de almoço: a minha cidade natal cheia de viadutos e vias rápidas e agora com o melhor centro comercial do país, digo eu sem conhecer uma data deles, mas dos que conheço, vá. Na mesma manhã, a feira da vila ali do lado, cada vez mais roupa e mais pó; encontro primos, olá, também cá vieste? cumprimos o mesmo ritual de infância, quando ainda iamos de bicicleta e a feira tinha mais patos que sapatilhas da Floribela. Nostalgia? Sim, claro, eis-me no habitat do costume, fora de programa (mas por uma boa causa), não tão desgostosa como regressarei no domingo, mas já antevendo o ano que começa e eu longe da minha terra, da que elegi como minha, aquela aldeia para onde volto assim que acordar amanhã.
Tenho histórias, tenho. Não são as minhas mas são as que me apetece contar. Se calhar não posso, não são minhas mas hei-de arranjar maneira. Não quero que se percam. Posso não me lembrar depois, quando as quiser contar aos meus netos, as histórias da família deles, as que se contam em tardes mansas de conversas entre tios e primos e avós e netos. É isto que é conta, a memória. Agapantos que se cortam quando estão secos e servem depois para adubar outras plantas.
